INTERNACIONAL
A A | O jogador, sua aposta e a desordem mundialDepois de abandonar compromissos e alianças, e de iniciar uma diplomacia baseada apenas na força, Trump descobriu… que já não é tão forte! Mas o caos no Ocidente se ampliará e só poderá ser superado com o fim da ordem eurocêntrica Ao se completarem os cem primeiros dias do governo de Donald Trump, um importante site de notícias brasileiro publicou na primeira página, ecoando boa parte da imprensa ocidental, que “em 100 dias Trump provocou o caos e abalou a ordem mundial”. Isso é apenas parcialmente verdadeiro, uma vez que a desmontagem (desordem) da “ordem internacional” do pós-Guerra Fria começou muito antes que Trump fosse eleito pela primeira vez, em 2016. O desmonte começou em 1999, quando os EUA e seus aliados da Otan desautorizaram as Nações Unidas, e atacaram e destruíram a Iugoslávia sem sua aprovação. E mais ainda, quando os EUA e a Grã-Bretanha atacaram o Afeganistão e o Iraque, em 2001 e 2003, contrariando a posição do Conselho de Segurança da ONU, principal órgão de “governança global” que eles mesmos haviam criado em 1945. Esse processo de descrédito e desestruturação se agravou com o fracasso da “guerra global ao terrorismo”, declarada pelos EUA em 2001 e travada de forma quase contínua durante 20 anos, destruindo países e matando milhares de habitantes islâmicos do Oriente Médio, sem nenhum tipo de autorização da chamada “comunidade internacional”. Não há dúvida de que o abalo definitivo da ordem vigente ocorreu quando as tropas russas invadiram o território ucraniano, depois de EUA, Otan e União Europeia rejeitarem um ultimato russo que exigia a desmilitarização da Ucrânia e a revisão do mapa geopolítico europeu, que havia sido imposto à Rússia pelas “potências vitoriosas” e a Otan a partir de 1991. Hoje, quando se olha com a perspectiva do tempo passado, percebe-se melhor que no dia 21 de fevereiro de 2021, se deu a ruptura definitiva dessa ordem euro-americana. Naquele momento surgiu uma potência – dentro do sistema mundial – que ousou desobedecer e desafiar, com suas próprias armas, as tropas ucranianas e o poder militar e financeiro dos EUA, da Otan e da União Europeia, envolvidos numa verdadeira “guerra por procuração” contra a Rússia. Os russos alcançaram uma vitória militar exponenciada pelo fracasso do ataque econômico massivo desfechado por essas mesmas potências do G7 e da Aliança do Atlântico Norte. Duas vitórias que desmoralizaram definitivamente a ideia da superioridade militar e econômica do “Ocidente” com relação ao “resto do mundo”. Quase na mesma hora em que o massacre israelense, absolutamente cruel e insano, da população palestina da Faixa de Gaza, feito com as armas e o financiamento dos EUA, e com a cumplicidade silenciosa de seus aliados europeus, liquidou também o que restava da ideia da “excepcionalidade moral” da “civilização judaico-cristã” que serviu de fundamento ético da hegemonia cultural do “Ocidente”. Foi nesse contexto, e após a grande crise financeira de 2008, que pôs em xeque a utopia da globalização econômica, que surgiu politicamente a figura de Donald Trump, o “grande jogador”. Sua vitória em 2016 e reeleição de 2024 são parte dessa mesma crise e desintegração da “hegemonia ocidental”. Sua figura é indissociável da sua crítica veemente do “globalismo liberal” e de sua proposta de reorganização da política externa americana a partir da força e do interesse nacional dos EUA, sem maiores pretensões morais ou catequéticas. E não há a menor dúvida de que a política e a estratégia nacional e internacional de Donald Trump vêm contribuindo decisivamente para aumentar o caos e a desordem dentro e fora da sociedade americana. Mais do que isto, a intenção declarada de Trump é destruir o que sobrou da “ordem liberal- cosmopolita” ou “globalista” do pós-91, e apostar num novo tipo sistema de correlação de forças internacionais baseado apenas no poder e nas negociações mercantis, sem nenhum tipo de utopia universalista. Deixando de lado o “histrionismo volátil” de Trump, para poder entender melhor sua aposta geopolítica no campo internacional, o que mais se destacou nos primeiros meses do governo Trump foi exatamente sua crítica inclemente do “globalismo liberal” e o ataque direto contra seus próprios vizinhos, aliados e vassalos – como no caso do Canadá e do México, e do Panamá e da Groenlândia – e de forma ainda mais surpreendente e disruptiva, contra seus aliados europeus da União Europeia e da Otan. E ainda, seu ataque contra as instituições e organismos multilaterais criados depois da II GM para administrar a hegemonia mundial dos próprios EUA. Culminando com o “tarifaço universal” de Trump contra todos os países do mundo e, em particular, contra a China e a própria Europa, visando reorientar o comércio internacional e redesenhar o mapa produtivo do mundo. De todas as suas iniciativas, entretanto, a mais heterodoxa foi sem dúvida a reaproximação e abertura de negociações com a Rússia, para acabar com a guerra da Ucrânia e trazer a Rússia para dentro dos circuitos produtivos, mercantis e financeiros do G7, na contramão da “russofobia” dos europeus. A tal ponto que chegou a reconhecer e denunciar a responsabilidade de Joe Biden e da Otan pela própria Guerra da Ucrânia, antecipando a vitória inevitável da Rússia e defendendo a necessidade da paz para que os russos não simplesmente não acabem com a Ucrânia. Deixou no ar, inclusive, a possibilidade de que os EUA abandonem, no médio prazo, seu compromisso de “defesa mútua” incondicional, com relação aos países da Otan. Existe, no entanto, outro aspecto menos notado mas igualmente importante desses primeiros 100 dias de governo: a percepção cada vez mais nítida de que Trump não dispõe do poder que imaginou ter inicialmente, ao se propor a reorganizar o mundo de forma unilateral. Foi o que aconteceu no ataque econômico contra a China, que encontrou uma resposta inesperada, dura e agressiva. Os chineses não se intimidaram nem se submeteram, e acabaram impondo aos norte-americanos um recuo e uma negociação em pé de igualdade, e nos termos exigidos pelo governo chinês. Algo parecido com o que passou com a apressada tentativa americana de pacificação da Ucrânia, que entrou em choque com a resistência do seu próprio vassalo, e muito mais ainda, com a posição firme da Rússia em defesa de uma renegociação mais ampla do mapa geopolítico da Europa, que lhe havia sido imposto em 1991, e das próprias bases da nova ordem internacional que russos e chineses também consideram que deva ser reconstruída. E o mesmo deve ser dito sobre a resistência demonstrada pelo Irã na defesa de seu programa nuclear, a despeito das reiteradas ameaças apocalípticas de Trump. Para não falar do recuo do governo Trump frente à corajosa resposta do México, ou mesmo seu fracasso em impedir que os países do seu “quintal latino-americano” comparecessem em peso ao 4º Fórum Ministerial China-Celac, em Pequim, neste mês de maio, uma das mais importantes iniciativas de cooperação multilateral do Sul Global. Do nosso ponto de vista, a fraqueza demonstrada pelos EUA de Trump tem contribuído também, e de forma decisiva, para o desaparecimento quase completo de qualquer tipo de limites, regras, instituições e árbitros capazes de impedir que a guerra se transforme no meio mais comum e natural de “solução” de todo e qualquer conflito internacional. É o que está acontecendo no caso dos ataques de Israel contra o Líbano, a Síria, e o Iêmen; e no caso dos ataques do Iêmen contra os navios “inimigos” que atravessam o Mar Vermelho; e ainda dos ataques massivos dos EUA e da Grã- Bretanha contra o Iêmen, da mesma forma que na disputa fronteiriça entre a Índia e o Paquistão. Assim mesmo, quando se olha com mais cuidado para essa “desordem no mundo”, percebe-se que ela se concentra muito mais nas zonas de “influência ocidental”, ou das potências do Atlântico Norte que dominaram o mundo nos últimos 200 anos, do que no “lado oriental” do sistema mundial. Sobretudo porque essa desordem vem sendo produzida pela erosão do poder militar e da liderança econômica e moral das “potências ocidentais”. Por isso mesmo, pode-se afirmar que o fim do caos e da desordem no mundo só ocorrerá com a construção e consolidação de uma nova ordem internacional. Esse é um processo que passará, inevitavelmente, pela redefinição das relações entre esses “dois mundos”. Com certeza, haverá avanços e recuos, mas essa construção tomará muitas décadas e envolverá ainda muitos conflitos e guerras, mas já não será mais uma ordem tutelada pelos EUA, nem muito menos pela Europa. Isto acabou. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | A guerra de Trump e a resposta da ChinaNo momento em que a Casa Branca tem como alvo central o Brasil, vale examinar a resposta altiva de Pequim. E, em especial, o que a torna possível: a disposição de construir, em meio a um sistema interestatal capitalista, a superação deste paradigma A “quarta explosão expansiva” do sistema interestatal capitalista tem sido apresentada como um desdobramento e síntese da contribuição de José Luís Fiori ao debate público sobre a conjuntura internacional que estamos vivendo. Isso significa que o mundo está passando por profunda reconfiguração geopolítica e tecnológica, marcados por aumentos intensos na competição entre Estados e por mutações estruturais na hierarquia internacional. A atual fase é marcada pela decomposição da ordem mundial unipolar do pós-Guerra Fria, pela ascensão de novas potências e pelo surgimento de uma ordem ainda indefinida, atravessada por múltiplas crises simultâneas. A questão que nos propomos lançar aqui é sobre o papel da China tanto neste processo histórico, quanto no “sistema interestatal capitalista”, de forma que possamos ter mais sofisticação de análise ao interpretar como este país, e outros, respondem à tentativa dos Estados Unidos em reconfigurar o sistema tendo o si mesmos como o “ponto zero”. O primeiro ponto que levantamos aqui é que apesar do sistema interestatal ser capitalista, nem todos os seus participantes o são. Assim sendo este sistema não impediria a priori o surgimento e o desenvolvimento de formas históricas nacionais não-capitalistas, podendo no máximo, a partir de suas instituições, bloquear o desenvolvimento dessas experiências. Cuba, Venezuela, Coreia Popular, China, Vietnã e Bielorrússia são alguns exemplos. O caso da China, as respostas que ela entrega a cada investida tarifária dos EUA não estão desconexas de seu sistema político, produtivo e financeiro não-capitalista. A diplomacia que a permite arranjos amplos como o recente acordo de livre-comércio com o Japão e a Coreia do Sul são produto e uma revolução social de clara orientação não-capitalista, assim como as reformas econômicas de 1978, apesar de recolocar a China como parte deste sistema interestatal, e internalizar esquemas instituições de mercado assim como formas não-públicas de propriedade, não foi acompanhada por nenhuma declaração no sentido do abandono da ordem iniciada em 1949. Este sistema estatal está sendo não somente reconfigurado, mas remoldado internamente por uma economia que se reinventou ciclicamente utilizando-se de todas as possibilidades que a ordem pós-2ª Guerra Mundial fundou. Dado o tamanho de sua população, mercado interno e instituições políticas o seu desenvolvimento está levando a uma subversão do supracitado sistema a ponto de um lado voltar a existir as chamadas “esferas de influência”, por outro cada “esfera” não centrada na China ainda depender sobremaneira da capacidade de produzir, absorver produtos e investimentos do gigante asiático. Por sua vez, a sua estratégia socializante e os resultados de suas reformas econômicas serem inspiração para rebeliões nacionalistas como as que estamos a assistir na África recentemente. Não estamos assistindo a um momento qualquer do mundo. Deveríamos levar muito à sério o que Xi Jinping disse a Putin sobre “as transformações pelas quais estamos a encabeçar jamais vistas em cem anos”. Uma clara alusão à Revolução Russa. O organismo econômico chinês foi capaz de se adequar tanto às instituições de Bretton-Woods quanto ao bullying comercial e tecnológico lançado por Trump em 2017 e profundado por Biden. O salto chinês no período em todos os aspectos que envolvem a presente revolução técnico-científica é uma demonstração prática de como essa dinâmica não-capitalista irá moldar o destino do sistema interestatal. A reação russa ao ataque coordenado do G-7 a si mesma, e também contra a China, não se explica somente pela capacidade de reorganização de seu país a partir do início dos anos 2000. A “integração produtiva total” entre as economias russa e chinesa que se acelerou desde 2014 responde pelo o que deverá ser a essência da nova roupagem deste sistema interestatal. O mesmo podemos dizer deste movimento de maior aproximação entre China, Vietnã e Malásia que entre si. Esses dois países respondem por cerca de US$ 300 bilhões do comércio chinês. Ambos os países, apesar de históricas desconfianças em relação à China, não prescindem deste parceiro para moldar seus projetos nacionais – cada vez menos dependentes dos Estados Unidos e União Europeia. Vejamos o caso da União Europeia, um possível “bloco” dentro deste novo arranjo sistêmico que se apresenta. Como este bloco poderá prescindir de um país cujas importações e exportações respondeu por US$ 840 bilhões em 2024? Como a Alemanha poderá dar um novo salto para uma quase autarquia que abarcaria a Europa sem os insumos e mercado chinês? Ou mesmo sem a energia russa? Ora, se de um lado a Rússia coloca um freio militar à ordem liberal, sendo parte fundamental do fim desta mesma ordem, podemos dizer que um país liderado por um Partido Comunista, com instituições políticas forjadas pela antiga União Soviética e uma dinâmica de acumulação que absorve os atributos do “Estado Desenvolvimentista” a la Chalmers Johnson, criando um “Estado Socialista” caracterizada menos por um State-Led Development e mais por um Communist Party-Led Development? Aqui não se trata de uma pergunta e sim, afirmação. A ciência social tem uma imensa dificuldade de lidar com fenômenos novos. Se ao menos consegue, a partir da história, entregar determinado nível de explicação e novos arranjos categoriais e conceituais, ainda pode se ver presa a vícios típicos de quem observa a parte e não o todo. Estamos diante de um novo giro do parafuso cíclico da história onde uma formação econômico-social de novo tipo deverá ocupar o centro deste sistema. A dialética, que se constitui como parte da formação de seu pensamento nacional deste Confúcio e Lao-tsé com o qual Hegel dialogou nos entregou complexos corpos teóricos derivados da fusão das tradições da filosofia clássica chinesa com o marxismo, entre elas a “abordagem da contradição” e as noções de contradição antagônica e não antagônica. Não iremos sair do lugar caso não estejamos dispostos a mergulhar neste imenso terreno histórico e teórico. Entender o que está por vir passa por estudar a fundo o que o pensamento chinês sintetizado hoje nas teorias do “socialismo com características chinesas” tem a nos entregar. O chamado “ocidente coletivo” não mostrou disposição para entender os recados dos jesuítas e a missão de aprender com a dialética rústica chinesa. Irão ser superados tendo a própria força como instrumento. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | O ataque de Trump e a resposta necessáriaAtos da Casa Branca abrem provável escalada de hostilidades. Tentam salvar Bolsonaro, mas visam também atingir os BRICS e evitar que o Brasil passe a uma política externa de fato independente. É preciso um pronunciamento de Lula Título original: 1. A carta de Trump em que anuncia uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os EUA é o ataque imperialista mais grave contra o Brasil, desde a cumplicidade norte-americana com o golpe militar de 1964. O Brasil passa a ser o país com as tarifas mais altas entre todas as nações do mundo. O que significa fechar o mercado norte-americano para as exportações brasileiras. Esta é a dimensão da agressão. Não tem precedentes desde o fim da ditadura militar. Nem Nixon, nem Reagan, Bush, Clinton, Obama, Biden, ou qualquer outro presidente dos EUA — nenhum deles fez nada parecido. Quem subestimar a violência do ataque perdeu o juízo. Alguns podem interpretar como sendo somente uma declaração de “guerra econômica”. Mas não é. Não se trata de busca de nivelação da balança comercial. Aliás, ela é desfavorável para o Brasil. Este pretexto é uma dissimulação grotesca. A avaliação da ofensiva só pode ser explicada, se compreendermos qual é o seu alvo. Que fim persegue? Ela responde a uma estratégia eminentemente política. Trump quer desestabilizar o governo Lula. Mas trata-se de um ataque contra a nação. 2. Washington não pode aceitar, indefinidamente, a ambiguidade ou ambivalência da política externa brasileira. O Brasil condenou a invasão da Rússia contra a Ucrânia, mas não se alinhou com Zelensky. Lula exigiu a apresentação das atas eleitorais do processo que culminou com a reeleição de Maduro na Venezuela, mas não denunciou o regime como uma ditadura. Lula condenou a ação militar do Hamas, mas criticou o contra-ataque de Israel como um genocídio. Mas Trump não consegue manter “neutralidade” diante da disputa de poder que se anuncia com a possibilidade da reeleição de Lula. Lideranças do governo Trump, como o vice-presidente, já tinham manifestado apoio a candidaturas da extrema-direita, como a AfD na Alemanha. 3. O objetivo político do documento é claro quando inicia o primeiro parágrafo defendendo Bolsonaro. Não se trata, portanto, de um conflito econômico-comercial. Reduzir a investida à defesa de interesses econômicos das big techs ameaçadas de regulação pelo STF, tampouco, faz sentido. A importância econômica destas corporações é, evidentemente, gigante. São hoje as maiores empresas capitalistas do mundo. As mídias norte-americanas são armas estratégicas na luta política- ideológica. São a “força aérea” da disputa de Washington pela defesa de sua supremacia no sistema internacional. A questão central é o lugar do Brasil no mundo. 4. A centelha para a insolência de Trump parece ter sido a necessidade de resposta à recente reunião dos Brics no Rio de Janeiro e à defesa, feita por Dilma Rousseff, da necessidade de desdolarização. Mas também à presença de Lula em Moscou, quando dos oitenta anos da derrota do nazifascismo, e as críticas ao genocídio sionista na Faixa de Gaza. Mas o gatilho deve ter sido a fala de Lula contra o “imperador”. Trata-se de abuso de poder da maior potência imperialista. Mas o alinhamento de Trump com Bolsonaro não é lateral na carta. Mudou de qualidade, e é uma sinalização da Casa Branca de que não aceita que o capitão seja preso. Anuncia, preventivamente, que a provável condenação dos bolsonaristas, e eventual prisão será denunciada como perseguição política. Trump abraça Bolsonaro diante do mundo. 5. No terreno da tática, ou na escala dos tempos mais breves da luta política, a carta de Trump é uma forma de pressão sobre o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal. Mas é também um posicionamento mais claro diante do governo Lula. Não é irrelevante que, desde a posse de Trump, os EUA não tenham um embaixador em Brasília. Não é, também, desimportante que Trump tenha se pronunciado, desaforadamente, no calor do dia da posse, dizendo que o Brasil precisa mais dos EUA que o contrário. Na dimensão estratégica a carta de Trump é um primeiro movimento no curso de hostilidades que vão escalar. A resposta do governo foi indicar a disposição de aplicar o princípio da reciprocidade, apresentada em um post de Lula na internet. Não é o bastante. A gravidade máxima do episódio exige que Lula faça um pronunciamento público em rede de TV aberta e rádio. Não se trata somente de defesa da nação com altivez. O que está em disputa é a conscientização do povo de que o mundo ficou mais perigoso. Cláudia Sheinbaum, por muito menos, conclamou à mobilização de massas no Zocalo, a praça central da cidade do Mexico. A governabilidade “a frio” pela via de sucessivas conciliações e recuos já tinha colapsado diante dos conflitos internos. Agora é a ambiguidade da política externa que está ruindo. Ainda há tempo, mas não muito, de inverter o curso. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |


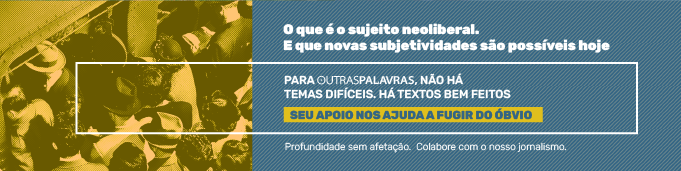
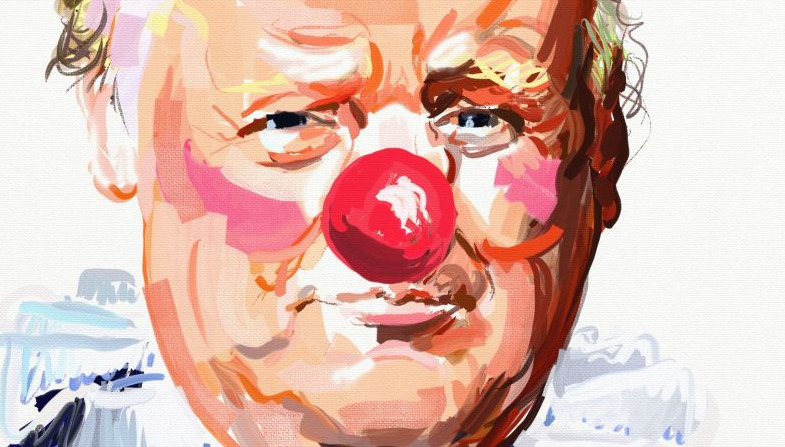
Comentários
Postar um comentário