SAÚDE
A A | HIV: A trágica mas previsível crise mundial de recursosResposta global à aids passou por várias “ondas”, mas sempre dependeu de verba dos EUA – pública ou, cada vez mais, de fundações e empresas privadas. Após cortes de Trump, o “tsunami”: milhões podem perder acesso a tratamento, alerta relatório inédito da Abia Por Jane Galvão, Veriano Terto Jr e Richard Parker, para a coluna Saúde não é mercadoria O título de uma publicação de 2014 do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS, sigla em inglês) — The urgency of now: AIDS at a crossroads (A urgência do agora: a AIDS frente a uma encruzilhada) — bem ilustra o momento que atravessam a pandemia de HIV e o cenário global da saúde pública. Ele tornou-se ainda mais crítico a partir do primeiro semestre de 2025, com a instalação do governo de Donald Trump nos Estados Unidos (EUA). Trump assinou várias ordens executivas, que tiveram como consequência o cancelamento de uma boa parte do apoio que os Estados Unidos — o maior financiador da resposta global à pandemia de HIV — destinava a diversos países e entidades, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o UNAIDS. Ainda estão sendo avaliadas as consequências plenas das ordens executivas, mas há um consenso de que serão catastróficas para o futuro do enfrentamento da pandemia de HIV e de outros agravos à saúde. Dada esta situação caótica, vale a pena refletir sobre o “edifício” – para usar uma metáfora apropriada para a mentalidade do magnata imobiliário transformado no homem mais poderoso do mundo – que Trump decidiu, aparentemente sem preocupações sobre as consequências, destruir. Como foi que esse “edifício” foi construído? Por quem e para quem? E o que restará dos escombros que surgirão como consequência dessas decisões? Pelo menos alguns elementos que podem ajudar a oferecer respostas estão presentes em um texto que recentemente escrevemos e será lançado pela Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) em breve: Uma Análise Crítica das Tendências de Financiamento Internacional para Atividades em HIV e AIDS, 1981-2022. A partir do próximo dia 3 de julho, a publicação estará disponível no site da ABIA para download. Nossa análise — que tem como foco a relevância do contexto internacional para o enfrentamento da AIDS no Brasil e que sumarizamos neste artigo — está dividida em cinco períodos, abarcando os anos de 1981 até 2022. Destacamos, em cada período, eventos, nacionais e internacionais, que avaliamos como marcantes; exemplos de financiamentos; e os principais pontos que definem as mudanças de prioridades dos doadores. A pesquisa utilizou fontes variadas que buscaram consolidar e examinar os financiamentos destinados à AIDS e inclui análises acadêmicas, documentos publicados por instituições doadoras, e materiais de organizações como o Funders Concerned about AIDS (FCAA), a KFF, e o UNAIDS. Um conceito que usamos no texto — e que nos ajudou a estruturar os períodos descritos abaixo — é o que autores, como Richard Parker, definem como as diferentes “ondas” que marcam a resposta à pandemia de HIV, sendo que Parker distingue cinco delas. Mas o que não poderíamos imaginar é que um “tsunami” seria gerado pelas medidas anunciadas por Trump logo após a sua posse. 1981-1990: Os primeiros anos da pandemia de HIV Nessa época, o apoio internacional — tal como o apoio de fontes nacionais — ainda dependia, em grande medida, menos de políticas formais do que de ações baseadas na solidariedade de pessoas-chave nas comunidades diretamente afetadas pelo HIV. Um dos principais desafios para estes atores durante os últimos anos da década de 1980 foi o de firmar políticas institucionais capazes de garantir a continuidade programática do apoio — um objetivo importante que só seria realizado, de forma mais consistente, no próximo período. Mas esse foi o período em que doadores privados como fundações internacionais (como, por exemplo no Brasil, a Fundação Ford) e apoio governamental internacional para desenvolvimento (como, por exemplo, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, na sigla em inglês) iniciaram os primeiros apoios internacionais para o enfrentamento do HIV nos países do Sul Global. 1991-2000: Novas prioridades, novas iniciativas Esse foi um período em que o compromisso para destinar mais recursos financeiros para a pandemia cresceu significativamente, tornando a resposta ao HIV uma questão importante no campo do desenvolvimento internacional. Inúmeras fundações privadas entraram no campo da AIDS (e atuaram no Brasil ao longo deste período, complementando o pioneirismo da Fundação Ford), e agências bilaterais como a USAID expandiram as suas contribuições. As mais importantes agências multilaterais de financiamento, a exemplo do Banco Mundial, entraram com peso no campo, com consequências decisivas para a estruturação do enfrentamento da epidemia de HIV no Brasil. 2001-2010: Expansão das respostas globais O aumento significativo dos recursos disponíveis para o enfrentamento da pandemia de HIV no período anterior pode ser visto como precursor do aumento ainda mais expressivo que vai acontecer a partir de 2001, com a “ampliação” (“scale-up”) da resposta global. Esse período foi marcado por três tendências: 1. A expansão do campo da “saúde global”, tendo a resposta à pandemia de HIV como seu grande motor; 2. Uma intensificação da lógica do capitalismo neoliberal de investimento no campo, com a criação de novas instituições e iniciativas (tanto públicas quanto privadas) e modelos inovadores de grandes iniciativas de saúde global, além de um novo conceito/estrutura híbrido de “parcerias públicas-privadas” (PPPs), como no caso do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária; 3. O surgimento de novos atores no campo da filantropia privada, buscando novos modos de atuar para garantir maior impacto, com mais ênfase nos princípios de setor privado/comercial e uma nova modalidade de filantrocapitalismo, como por exemplo, a Fundação Bill & Melinda Gates. Até o final dos anos 2000, o Banco Mundial e a Fundação Ford tinham perdido a influência e protagonismo no enfrentamento da pandemia de HIV, e nos anos 2010 estavam planejando encerrar as suas ações de maior destaque. O “novo mundo” da saúde global tinha definitivamente chegado, e as suas principais tendências ficariam mais claras na próxima fase, que apresentamos a seguir. 2011-2019: O fim da AIDS? O “fim da AIDS” é um conceito que marca esse período. O que havia começado uma década antes com a ênfase em “parcerias público-privadas” assumiu uma proeminência ainda maior ao longo da década de 2010, com um foco mais amplo no que estava sendo descrito como “financiamento misto” (blended financing), vinculando o investimento público ao investimento privado para desenvolvimento internacional. Mas, talvez porque o establishment da AIDS já tivesse declarado vitória na luta contra a pandemia, essas novas abordagens pareciam contornar ou ignorar o financiamento para HIV e AIDS, sendo priorizado o que era percebido como novas emergências que passaram a ter prioridade, como a crise climática, bem como para outras emergências globais de saúde no que que poderia ser visto como um anúncio das mudanças que viriam a acontecer na última fase, que mencionamos abaixo. Esse período termina com a notificação de casos de pneumonia, causada por um novo coronavírus, no que viria a ser a pandemia de COVID-19. 2020-2022: Uma nova pandemia, crescimento das desigualdades, e uma resposta em perigo Trata-se de um período marcado por profundas mudanças e crises (no que vem sendo chamado polycrisis, multiple crises, ou overlapping crises), devido à interconexão de catástrofes, conflitos e crises humanitárias com agravos à saúde. Uma época que será lembrada pela pandemia de COVID-19. Esse é um período em que o montante total de financiamento se tornou altamente concentrado, com 74% dos recursos do apoio de governos doadores para desenvolvimento sendo fornecidos pelo governo dos EUA em 2022. Também ficou mais dependente do filantrocapitalismo, com destaque para a indústria farmacêutica: com 65% dos recursos da filantropia privada em 2022 sendo doados por somente três fundações, ambas com sedes nos EUA: a Fundação Bill & Melinda Gates (32%), a Fundação Gilead (26%), e ViiV Healthcare (7%). Somam-se a esse ponto a geopolítica global, a emergência de novas crises de saúde (como a COVID-19 e a real possibilidade de uma nova pandemia) e a crise climática, que se tornou o principal foco da preocupação política global. Conclusão Os pontos para os quais chamamos a atenção ao analisar cada um dos cinco períodos, sobretudo o período final (2020-2022), ficam ainda mais prementes após a reeleição de Trump. As medidas anunciadas pela administração Trump estão afetando a ciência e a saúde pública e criando as condições ideais para o que chamamos, no quinto período, de “tempestade perfeita”. Tais medidas vão transformar as “ondas” em um “tsunami”, levando a perdas irreparáveis do que foi conseguido, com muito esforço, ao longo de mais de quatro décadas de enfrentamento da pandemia de HIV, tanto local quanto globalmente, pela comunidade de ativistas — incluindo as pessoas vivendo com HIV e AIDS — pesquisadores, governos, agências de saúde global, e doadores. Não temos dúvida que os cortes radicais de recursos dos EUA terão consequências para o futuro da resposta global à AIDS. A consequência mais radical, e mais cruel, será o fim do acesso ao tratamento antirretroviral para milhões de pessoas nos países mais pobres do mundo e um aumento assustador de mortes evitáveis. Sem a USAID e o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da AIDS (PEPFAR, sigla em inglês) e com a capacidade reduzida dos outros países doadores (forçados pelas políticas americanas de concentrar os seus recursos em defesa e outras finalidades semelhantes), é possível esperar uma redução drástica no apoio bilateral para outros elementos da resposta global à pandemia (prevenção, vigilância etc.). Já estamos vendo a desestruturação da arquitetura necessário para enfrentá-la: por exemplo, a reestruturação do UNAIDS, com uma redução de 680 para 280 funcionários, e outros processos ainda menos definidos, mas provavelmente semelhantes, no Fundo Global, na Unitaid e em outras agências chaves para a resposta global ao HIV. As prováveis consequências imediatas destas mudanças para o Brasil podem ser menos drásticas pois o Brasil depende muito menos de recursos internacionais e tem mais capacidade de manter os elementos do seu programa nacional de AIDS. Aqui destacamos o modelo de apoio que beneficiou o Brasil — como os empréstimos do Banco Mundial, que foram reduzidos gradativamente ao longo de décadas antes de serem finalizados. Mas seria ingênuo pensar que a desestruturação da resposta em nível global não será sentida no Brasil. Acima de tudo, esta desestruturação pode aumentar ainda mais o poder e a ganância da indústria farmacêutica internacional e reduzir a nossa capacidade de resistir a outros danos de um sistema de saúde global cada vez mais entregue às piores tendências do sistema capitalista. Desde meados dos anos 2000, as diversas administrações do governo federal brasileiro têm mostrado pouca vontade de defender o Sistema Único de Saúde (SUS) contra tais ameaças. A perspectiva histórica que nosso estudo oferece sobre os modelos de financiamento e apoio internacional sugere que estas pressões podem aumentar significativamente no futuro. Por último, destacamos que nossa análise busca contribuir para o melhor entendimento do financiamento não somente para a sociedade civil, mas também visa chamar a atenção sobre a importância da resposta intersetorial aos diferentes agravos à saúde pública, como a AIDS. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Uma Só Saúde e Saúde Coletiva: diálogo possível?Sanitaristas brasileiros são críticos ao conceito disseminado pela OMS que une saúde humana, animal e ambiental. Mas é possível aproveitar brecha aberta pela consulta pública para um Plano de Ação Nacional – e aproximá-lo da realidade e das necessidades do SUS Está aberta consulta pública sobre o Plano de Ação Nacional de Uma Só Saúde – versão estratégica. Trata-se de uma proposta alinhada à aliança quadripartite global (OMS, OIE/WOAH, FAO e PNUMA), adaptando ao contexto brasileiro as seis linhas de ação propostas pelo Painel de Especialistas de Alto Nível em One Health (OHHLEP). O Plano visa contribuir com a prevenção e o controle das ameaças à saúde humana, animal, vegetal e ambiental por meio de ações estratégicas nacionais voltadas à implementação da abordagem integrada, intersetorial e transdisciplinar de Uma Só Saúde. Certamente, a construção deste Plano demonstra que o governo brasileiro não se manteve alheio às discussões internacionais e à busca por alguma forma de governança global — cada vez mais difícil — que colocou a abordagem da Saúde Única no centro das negociações do Tratado de Pandemias e, possivelmente, também nas discussões previstas para a COP-30. Contudo, essa iniciativa reacende controvérsias no campo da saúde, especialmente entre sanitaristas e estudiosos da Saúde Coletiva da América Latina. De fato, a agenda da Uma Só Saúde – termo adotado pelo governo brasileiro possivelmente já para evitar controvérsias – não é consensual entre os diversos atores que administram, pesquisam e militam pelo fortalecimento do sistema público de saúde no Brasil. As tensões decorrem, sobretudo, das diferentes compreensões sobre a concepção ampliada de saúde, determinação da saúde, modelos de desenvolvimento e formas de governança intersetorial. Por exemplo, em 2024, atento à série de iniciativas daquele ano com o objetivo de consolidar a abordagem de Uma Só Saúde no Brasil, o Cebes publicou dois textos para discussão (1, 2). Em posicionamento público, esta histórica entidade apresentou uma crítica veemente à forma como essa agenda vem sendo incorporada no país. Segundo os autores, embora a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental seja reconhecida pela Saúde Coletiva, a proposta da Saúde Única revela limitações paradigmáticas importantes, incluindo fragilidades para enfrentar as causas estruturais das crises climática, ambientais e sanitárias, assim como para promover o fortalecimento do SUS. De modo geral, uma das raízes do incômodo reside na frágil problematização das dimensões sociais, econômicas e políticas, elementos centrais para a tradição da saúde coletiva brasileira. Embora existam divergências epistemológicas e conceituais internas entre sanitaristas — como evidenciam os debates recentes sobre a noção de determinação social da saúde (1, 2) ou sobre a ainda tensa incorporação de perspectivas decoloniais e interseccionais — há um traço que parece consensual: a saúde coletiva funda-se em uma discussão crítica e aprofundada sobre a interrelação saúde e sociedade. É nesse compromisso que ela busca sua identidade e distinção frente a outras abordagens de saúde pública. Por outro lado, a abordagem da Saúde Única ganhou projeção internacional no contexto da pandemia de COVID-19 e do agravamento da crise climática. As sobrepostas catástrofes sanitárias e ambientais que marcaram os últimos anos impõem, de forma incontornável, a necessidade de reposicionamento dos governos e da sociedade quanto às suas estratégias de prevenção, vigilância e resposta a riscos complexos à saúde. Nesse cenário, a dimensão ambiental assume um novo lugar, sendo incorporada com mais ênfase nas agendas sanitárias de vários países. Embora historicamente contemplada pela Saúde Coletiva e pelo SUS, a questão ambiental talvez não tenha recebido a atenção proporcional à sua relevância na determinação dos processos de saúde e doença. Sua importância estratégica tem ganhado centralidade mais recentemente no campo da Saúde Coletiva, que, no entanto, não abdica de perspectivas críticas ao buscar correlacionar a dimensão ambiental aos modelos de desenvolvimento, sempre à luz de princípios democráticos e de justiça social. Essa perspectiva reforça alguns argumentos de que a Saúde Coletiva constitui uma epistemologia do Sul Global, suficientemente sólida para não se submeter ao encantamento acrítico por soluções formuladas a partir de paradigmas do Norte. Apesar disso, é possível afirmar que alguns sanitaristas mais atentos já perceberam que não basta apenas reagir passivamente à proposta que chega de forma avassaladora. Há chamados internos para que a Saúde Coletiva se posicione ativamente diante da necessidade de integração das dimensões humana, animal e ambiental — por meio de proposições crítica e contextualizada, assim como participe da Consulta Pública. Enquanto nenhuma conciliação imediata seja possível entre alguns partidários no conflito, ainda é tempo de buscar um plano que dialogue melhor com os problemas de saúde do país, integrado aos princípios do SUS. É intrigante, por exemplo, a escassez de proposições relacionadas a outras políticas de saúde e organização do SUS. Até agora o plano não apresenta uma proposta forte de integração entre vigilância em saúde e atenção em saúde, particularmente nos territórios de atuação das equipes de Saúde da Família. É importante notar que a elaboração do plano se destaca pela sua ampla articulação intersetorial, envolvendo oito ministérios e cerca de 70 instituições na sua formulação. Contudo, embora com limitada representação de entidades ligadas ao direito à saúde e ao fortalecimento do SUS, como o Conselho Nacional de Saúde. É hora de se ampliar o debate. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | A difícil superação das desigualdades na SaúdeEm debate no último dia do Congresso da Alames, reflexões sobre a busca por igualdade. Mesmo em situações de melhora, abismo entre ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres permanece. Até quando a democracia suportará essas enormes disparidades? A saúde de uma população reflete, de forma muito sensível, as desigualdades presentes nela. Assim iniciou sua fala o pesquisador e médico sanitarista Mauricio Barreto, na mesa Estratégias para superar as desigualdades sociais para produzir saúde, que aconteceu na sexta-feira (8), último dia do Congresso Latino-americano de Medicina Social e Saúde Coletiva. Ao analisar os indicadores de saúde, mostrou ele, é possível enxergar como as questões de desigualdade se refletem no dia a dia e no curso da vida das pessoas. Embora alguns desses indicadores, como expectativa de vida, estejam melhorando ao longo das últimas décadas, a distância entre grupos sociais se mantém. Ou seja, a igualdade é muito difícil de se alcançar, mesmo com políticas públicas, mostrou Mauricio. Essa compreensão já existe há décadas: em 1982, o parlamento britânico encomendou uma avaliação do Sistema Nacional de Saúde (NHS) e constatou sua incapacidade de reduzir as desigualdades do Reino Unido. Ainda assim, foi só a partir da segunda metade dos anos 2000 que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a se debruçar sobre os “determinantes sociais da saúde” e propor ações concretas. No contexto latino-americano, a complexidade se acentua. Mauricio lembra que, embora o continente não tenha os maiores índices de pobreza do mundo, é aqui onde a desigualdade é mais pronunciada. O pensamento sanitário da região já encara a questão de frente há décadas, e a própria concepção da Medicina Social e da Saúde Coletiva são prova disso. Na região, “é a democracia, que se intensifica no início do século, que permite que um conjunto de políticas pró equidade, distributivas, possam ser implementadas”, afirma Mauricio. Mas há uma questão incômoda, levantada pelo pesquisador que fundou o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para Saúde (Cidacs) da Fiocruz/Bahia. O centro – onde há o maior recurso de dados entre todos os países de baixa e média renda no mundo – analisou dezenas de estudos sólidos mostrando os efeitos do Programa Bolsa Família. Embora seu foco principal não seja a Saúde, os dados mostram que o programa de transferência de renda para a população mais pobre impactou diretamente os índices de mortalidade materna, suicídio, doenças infecciosas, uso de drogas etc. Mauricio provoca: “talvez, os programas sociais, no contexto brasileiro, no período em que foram intensamente desenvolvidos, tenham mais impacto nas transformações da saúde do que o próprio sistema de saúde”. Ele destaca, no entanto, que essas desigualdades têm componentes estruturais, então não poderão ser resolvidas apenas com políticas públicas. As disputasEm sua fala, Sonia Fleury, socióloga e um dos nomes mais proeminentes da Reforma Sanitária brasileira, também participante da mesa, buscou compreender a origem dessas desigualdades. Afirmou, de antemão: no capitalismo, as iniquidades não serão totalmente exterminadas, pois são constitutivas do sistema e através delas é gerado o processo de acumulação de capital – mas também estão na origem das lutas sociais. Seu questionamento: até que ponto a democracia consegue conviver com níveis extremos de desigualdade? Sonia alertou que, em vez de gerar coesão social, como em outros momentos históricos, nos últimos anos a desigualdade tem alimentado regimes autoritários e o desmonte de políticas públicas. A cidadania, outrora um instrumento de inclusão, hoje opera como um mecanismo de exclusão: enquanto alguns têm direitos garantidos, outros são relegados ao “estado de exceção”. Essa fragmentação é agravada pela financeirização da economia, que esvazia a capacidade redistributiva dos Estados nacionais e aprofunda a disjunção entre capitalismo e democracia. A crise de subjetividade – marcada por medo, ódio e falta de sentido – exige, segundo Sonia, uma disputa ideológica urgente, em especial nesse período em que a esquerda prioriza manter instituições em detrimento da construção de novas narrativas hegemônicas. A sanitarista defendeu que é preciso ressignificar o desejo de autonomia da população, hoje cooptado pelo neoliberalismo na figura do “empreendedor”. “Como desarticular essa armadilha que entramos?”, se pergunta ela. “O que temos que construir, agora, é uma perspectiva que fortaleça o Comum como princípio articulador da produção, da reprodução e das relações sociais. Que leve em conta os sofrimentos que a população vive e os espaços possíveis de construção desse Comum”, finalizou ela. Desigualdades de gêneroTambém presente no debate, a pesquisadora e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Simone Grilo Diniz, acrescentou uma visão sobre as disparidades de gênero em saúde. Ela destacou que pobreza e discriminação agravam desigualdades, mas também apontou situações inesperadas, que desafiam explicações convencionais. No Brasil, dados mostram que mães mais ricas, apesar de melhor acesso à assistência, têm maior taxa de bebês prematuros, associada à alta frequência de cesáreas e intervenções desnecessárias. Isso tem impactos na amamentação, nos custos e na sobrevivência infantil. Esse padrão se repete em doenças crônicas e cânceres reprodutivos, nos quais tanto a falta quanto o uso inadequado da tecnologia elevam a mortalidade. Simone criticou o retrocesso em políticas de saúde da mulher, a diminuição da oferta de métodos contraceptivos de barreira e a distorção do discurso de equidade para justificar o consumo de tecnologias ou tratamentos sem base sólida. Ela alertou que, no país, ainda se morre tanto por ausência quanto pelo excesso de assistência. E mostrou que há uma saída importante: permitir a retomada de poder das mulheres na área da saúde. Segundo as evidências, contou Simone, “quanto maior a participação feminina, melhores os resultados nos campos da saúde”. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Censo das UBS traz raio-x inédito do SUSMembro da coordenação do levantamento que reuniu dados de todas as Unidades Básicas de Saúde do Brasil fala sobre seus resultados. Os dados são um retrato da atenção primária no país, que mostram desde o acesso a médicos às fragilidades e necessidades do sistema Foi concluído o Censo das Unidades Básicas de Saúde, iniciativa do Ministério da Saúde que significa um exame de profundidade inédita das condições de cada estabelecimento da Atenção Primária à Saúde. Pilar fundamental do SUS, as UBSs são o braço mais capilarizado do sistema de saúde nacional e alcançam, virtualmente, toda a população. Em entrevista ao Outra Saúde, Aylene Bousquat, professora da Faculdade de Saúde Pública (USP) e membro da equipe de coordenação do Censo, analisou em detalhes os dados compilados pela pesquisa. “O Censo traz elementos que contribuem para a formulação de políticas mais customizadas, que considerem a diversidade brasileira, os muitos Brasis”, sintetizou. Como explicado em reportagem anterior, o Censo foi realizado a partir da própria adesão dos municípios brasileiros, cuja participação foi considerada total, e cada unidade de saúde indicava um responsável pelo preenchimento de um longo questionário. Com isso, tem-se em mãos informações que vão de pequenas a grandes necessidades, como pequenas reformas na estrutura ou aquisição de novos equipamentos. Além disso, o Censo compila dados sobre o próprio corpo de profissionais do SUS, em esforço que ainda será ampliado no recém-lançado Censo da Força de Trabalho do SUS. A este respeito, a pesquisa já realizada traz dados preciosos sobre a efetividade e alcance do sistema de saúde nacional. “Uma coisa que repercutiu na mídia foi a informação de que 47% das UBSs têm um médico só, como se isso fosse um problema. Na verdade, é uma conquista, porque nós temos cerca de 96% das UBSs brasileiras com médicos e enfermeiros. O alcance das equipes de saúde bucal é um pouco menor chegando a cerca de 74% das UBSs, mas vale lembrar que o Brasil é um dos únicos países do mundo onde existe saúde bucal na atenção primária de forma gratuita e universal.” Na análise de Bousquat, autora do livro Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos no Brasil, tais números não poderiam ter sido alcançados sem a retomada do programa Mais Médicos, que voltou a espalhar profissionais pelo território nacional, após o flagrante desmonte do governo Bolsonaro. No entanto, não são apenas médicos que fazem o SUS no Brasil. Para Bousquat, o Censo também comprova a importância da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que lança mão de outros profissionais na oferta do serviço de saúde — inclusive fora das unidades, a exemplo dos Agentes Comunitários de Saúde. “Estamos comemorando 30 anos da ESF e o censo identificou que ela voltou a ser uma prioridade na política de saúde brasileira. A ESF está presente em 88,4% das UBSs e no Nordeste chega a 93,4%. Diversos estudos demonstram o impacto da ESF nos indicadores de saúde, bem como sua capacidade de diminuir as iniquidades em saúde. A dimensão comunitária e territorial é um dos elementos centrais na explicação destes resultados”, explicou. Outro aspecto chave do Censo é a ascensão da saúde digital. Trata-se de um avanço tecnológico inerente à atualidade, que não só pode ampliar a eficiência da abordagem ao paciente como também promover uma universalização definitiva do SUS, considerando que algumas condições específicas ainda isolam parte dos brasileiros de uma unidade de saúde. “A partir de conexões de internet, pode-se diminuir o deslocamento das pessoas, especialmente nos municípios e áreas onde as pessoas moram longe e a distribuição de médicos especialistas e de outros profissionais é desigual”, pontuou ela. Qual a importância de realização do Censo das UBS, que colheu informações de cerca de 49.738 unidades básicas de saúde no Brasil? O que o Ministério da Saúde pode fazer com este manancial de informações? A última análise da estrutura de todas as UBSs brasileiras foi em 2012, mas pela primeira vez foi realizada a avaliação da estrutura e das atividades de todas as UBSs. Foi um processo absolutamente ímpar no mundo, e o mais interessante é que foi por adesão. Ao aderirem, os municípios deveriam identificar quais das suas unidades eram de atenção primária e depois indicar quem responderia ao questionário. Foi um processo que incluiu os estados e os municípios, e chegou às quase 50 mil unidades básicas de saúde brasileiras em tempo recorde. O questionário, elaborado a muitas mãos, foi construído a partir da uma concepção de atenção primária não limitada à dimensão individual do cuidado das pessoas, mas que incluía também a promoção da saúde, a abordagem comunitária e territorial, bem como a integração da APS à rede de serviços. Consideramos a necessidade das pessoas, que algumas vezes, precisam circular por todo o sistema de saúde para ter suas necessidades atendidas. O Censo é um retrato da APS brasileira que permite identificar lacunas e avanços. As lacunas podem orientar investimentos, tanto na estrutura quanto na formação das trabalhadoras e trabalhadoras do SUS, bem como na melhoria da integração com o sistema de saúde como um todo. Os resultados estarão disponíveis para os municípios e estados, poderão orientar políticas e contribuir para diminuir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde. O Censo traz elementos que contribuem para a formulação de políticas mais customizadas, que considerem a diversidade brasileira, os muitos Brasis. Em sua visão, quais os dados mais relevantes colhidos no Censo? Muitos elementos. Uma coisa que repercutiu na mídia foi a informação de que 47% das UBSs têm um médico só, como se isso fosse um problema. Na verdade, é uma conquista, porque nós temos cerca de 96% das UBSs brasileiras com médicos e enfermeiros. O alcance das equipes de Saúde bucal é um pouco menor chegando a cerca de 74% das UBS, mas vale lembrar que o Brasil é um dos únicos países do mundo onde existe saúde bucal na atenção primária de forma gratuita e universal. Identificamos também que diversas ações são realizadas por praticamente todas as UBS, como por exemplo, pré-natal, coleta de exame preventivo de câncer de colo de útero, acompanhamento de usuários com hipertensão e diabetes. Precisamos aumentar algumas ações como por exemplo a busca ativa de mulheres com mamografia atrasada e a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Em municípios com maior densidade populacional seria interessante que tivéssemos duas Equipes de Saúde da Família por UBS, garantindo uma maior atuação tanto na própria UBS quanto na comunidade, no território, mas isso significa mais investimentos. Identificamos também a ausência de equipamentos importantes em parte das UBSs, que podem ser revertidos rapidamente com políticas direcionadas, o que certamente contribuirá para a melhoria do cuidado. A partir dos dados do Censo, o ministério elaborou um kit com uma série de equipamentos que vão ser fornecidos para 10 mil UBS brasileiras. Só isso já é um resultado fantástico. Como analisa o Mais Médicos neste contexto? O programa é suficiente para fixar profissionais em áreas onde o número de médicos é baixo ou até inexistente? É preciso dizer que o número de médicos e médicas em UBS só foi atingido por conta dos Mais Médicos, um programa cuja estratégia foi fundamental para garantir a presença de tais profissionais em praticamente todas as UBSs brasileiras. O desafio que o Censo identificou foi a necessidade de aumentar a formação das médicas e médicos, enfermeiras e dentistas na saúde da família. O Censo também atesta o avanço da Estratégia de Saúde Família como método de abordagem do SUS na atenção primária. Qual o significado disso, em sua visão? Estamos comemorando 30 anos da ESF e o censo identificou que ela voltou a ser uma prioridade na política de saúde brasileira. A ESF está presente em 88,4% das UBSs e no Nordeste chega a 93,4%. Diversos estudos demonstram o impacto da ESF nos indicadores de saúde, bem como sua capacidade de diminuir as iniquidades em saúde. A dimensão comunitária e territorial é um dos elementos centrais na explicação destes resultados. Aqui, a figura do agente comunitário é central, realmente faz diferença na qualidade da APS. É um sucesso tão grande que hoje vários países têm vindo se inspirar na nossa experiência. O custo-benefício é excelente. O Censo mostra que deve se investir na ampliação da mão de obra do SUS, nas mais diversas especialidades? É importante reforçar as Equipes de Saúde da Família. Observamos também que 41,9% das UBSs contam com equipes de apoio multiprofissional, as categorias mais frequentes neste apoio são psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Este apoio contribui muito, em especial, no cuidado das pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Seria importante ampliar a cobertura do apoio multiprofissional, bem como das equipes de saúde bucal, e é claro fortalecendo a formação destes trabalhadores. Vale lembrar, que mudanças no financiamento no governo passado levaram à diminuição do número de profissionais das equipes multi, mas que, felizmente, este quadro já está em reversão. Como analisa o PAC em relação ao seu programa de investimento na reforma e construção de novas UBS? O que poderia inovar em relação ao que se tem hoje? É fundamental. No Censo, 60% das UBSs indicaram que precisam de algum grau de reforma. Isso pode ser desde reformas pequenas, pinturas de parede, até praticamente uma unidade nova. É bastante variável. Soma-se a isso que, nos últimos 5 anos, 18% das UBSs foram afetadas por algum evento climático. É um número assustador. Tem ainda a questão da manutenção dos equipamentos. São diversos pontos da estrutura física que um pacote de investimentos como o PAC auxilia. Devemos pensar numa política que possa responder tais necessidades de uma forma mais rápida. O PAC é essencial, mas o Censo também trouxe informações específicas que permitem políticas mais direcionadas. Há unidades, por exemplo na região norte, que tem intermitência no fornecimento de luz elétrica, precisam de geradores, energia solar, formas de captação para funcionar. E sem luz, não tem internet, não funciona a sala de vacina entre tantas outras coisas. O que o Censo revelou da integração digital e conectividade das UBSs dentro do contexto social brasileiro? Seria o pulo do gato para tornar universalizar de vez o SUS? É superimportante. A partir de conexões de internet, pode-se diminuir o deslocamento das pessoas, especialmente nos municípios e áreas onde as pessoas moram longe e a distribuição de médicos especialistas e de outros profissionais é desigual. O Censo identificou que quase todas as UBS têm acesso à internet, mas a qualidade da conexão varia muito e evidentemente as unidades da região Norte são as que têm maiores dificuldades. O telessaúde tem muito a ajudar, é possível fazer exames e analisá-los a distância, sem que a pessoa precise se deslocar. É possível fazer teleconsulta com médico(a) e/ou enfermeiro discutindo com o usuário, entre tantas outras possibilidades. Hoje já se faz exames com um profissional orientando e observando a distância, o que pode agilizar processos ou até evitar que pessoas sejam encaminhadas desnecessariamente para ambulatoriais especializados. A atenção secundária é, hoje, outro tema objeto de discussão e de novas políticas como o “Agora Tem Especialistas”. O ideal é encaminhar as pessoas que realmente precisam desse cuidado, enquanto a maior parte permaneça sendo cuidada na atenção primária, com qualidade e efetividade, ou seja, uma boa e necessária atenção especializada está imbricada com uma APS de qualidade e efetiva. Portanto, realmente a saúde digital será fundamental para o avanço do SUS. É uma fronteira que exige futuros investimentos e ocupará lugar central. Eu não tenho a menor dúvida. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |  Ultraprocessados: alerta nas embalagens sobre risco de câncer poderá ser obrigatórioMariana RamosO Senado analisa o Projeto de Lei 2.722/2025, que pode mudar a forma como os alimentos ultraprocessados são apresentados ao consumidor brasileiro. A proposta exige que as embalagens desses alimentos incluam alertas sobre seu alto potencial cancerígeno . O Senado analisa o Projeto de Lei PL 2.722/2025, que pode mudar a forma como os alimentos ultraprocessados são apresentados ao consumidor brasileiro. A proposta exige que as embalagens desses alimentos incluam alertas sobre seu alto potencial cancerígeno . Segundo o projeto, os rótulos deverão conter a mensagem: “O consumo regular deste produto aumenta o risco de câncer”, na parte frontal dos alimentos e com caracteres legíveis. A medida busca ampliar a conscientização sobre os efeitos à saúde e frear o aumento do consumo dos ultraprocessados no país. “Temos que levar conhecimento para as pessoas se cuidarem cada vez mais. Consumidos em excesso, esses alimentos causam obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Cuidar da saúde é o maior ato de amor que pode ser feito.” disse a senadora Dra. Eudócia (PL-AL), em áudio divulgado pela Agência Senado. Ultraprocessados: consumo aumentou na última décadaDe acordo com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens/USP), o consumo de ultraprocessados cresceu 5,5% na última década no país. Esse aumento acompanha o avanço de doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão. O Ministério da Saúde também alerta que o excesso desses alimentos na alimentação está associado à má nutrição, mesmo quando há excesso de peso, além de estar ligado ao aumento de casos de câncer colorretal. De acordo com o boletim informativo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a maioria dos adolescentes atendidos pela Atenção Primária consumia alimentos pouco saudáveis: 83% ingeriam ultraprocessados, 68% tomavam bebidas adocicadas, 41% comiam macarrão instantâneo, salgadinhos ou biscoitos salgados, e 55% consumiam doces ou biscoitos recheados. O boletim destaca o aumento do excesso de peso entre crianças a partir dos 2 anos até a adolescência. A iniciativa do Projeto de Lei é da senadora Dra. Eudócia (PL-AL) e aguarda encaminhamento para as comissões temáticas. Caso aprovado, o Brasil poderá se tornar um dos primeiros países a adotar advertências desse tipo nas embalagens de alimentos. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Sinais: corrimentoAgência do RádioO corrimento vaginal é normal e importante para a saúde íntima. Ele ajuda na lubrificação e proteção. Mas, fique atenta aos sinais. O corrimento vaginal é normal e importante para a saúde íntima. Ele ajuda na lubrificação e proteção. Mas, fique atenta aos sinais:
“Observar seu padrão é essencial. Mudanças no cheiro, cor ou sintomas associados merecem atenção médica”, orienta a ginecologista dra. Denise Yanasse Ortega (CRM: 124.923/ SP) Notou algo diferente? Procure seu médico! Veja ao vídeo com a explicação do especialista: | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Brasil avança no combate às hepatites viraisHepatites B e C tiveram queda no número de mortes em 50% e 60%, respectivamente. País se aproxima da meta para 2030, mas ainda precisa garantir tratamento para todos O Ministério da Saúde divulgou dados animadores na luta contra as hepatites virais: entre 2014 e 2024, o país registrou queda de 50% nas mortes por hepatite B e 60% por hepatite C. Os números, apresentados no novo Boletim Epidemiológico, mostram que o Brasil está no caminho para cumprir a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de reduzir em 65% a mortalidade por essas doenças até 2030. Por trás desses resultados está uma combinação de fatores: ampliação da vacinação, oferta de testes rápidos e disponibilização de tratamentos eficazes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos avanços é o lançamento de uma plataforma de monitoramento inédita, que permite acompanhar em tempo real a situação das hepatites B e C em cada município brasileiro. O sistema, inspirado na bem-sucedida estratégia de combate ao HIV/aids, fornece dados cruciais para os gestores: número de pessoas diagnosticadas, quantas iniciaram tratamento e tempo médio de cuidado. Em 2024, os números revelaram um desafio persistente: das 115,3 mil pessoas indicadas para tratamento contra hepatite B, apenas 58,8 mil (51%) começaram de fato a terapia. Na hepatite C, o cenário é um pouco melhor – 9,1 mil dos 12,5 mil diagnosticados iniciaram tratamento (73%). “Os dados do boletim, do painel e a campanha lançada hoje mostram que é possível avançar mais no enfrentamento das hepatites”, conta Mariângela Simão, secretária de Vigilância em Saúde do ministério. A nova ferramenta possibilita uma melhora na busca ativa. Com os dados em mãos, as equipes de saúde podem localizar pessoas diagnosticadas que não iniciaram tratamento ou que abandonaram o acompanhamento. O objetivo é dobrar o número de pessoas em tratamento para hepatite B, alcançando a meta da OMS de 80% de cobertura. Paralelamente ao lançamento da plataforma, o Ministério iniciou a campanha “Um teste pode mudar tudo”, focada no diagnóstico precoce. “O Brasil conta com o maior e mais abrangente sistema público de vacinação, que garante a oferta de terapias e testagem. Desde a implementação dos testes rápidos no SUS, avançamos no enfrentamento das hepatites virais”, celebrou o ministro Alexandre Padilha. No campo da prevenção, os números são mais animadores. A vacinação contra hepatite A em crianças levou a uma redução de 99,9% dos casos nessa faixa etária. Em 2025, o SUS ampliou a oferta da vacina para adultos usuários de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), grupo mais vulnerável à infecção. Para hepatite B, o esquema vacinal completo (quatro doses) está disponível para todas as idades. Entre as crianças, a cobertura vem melhorando, mas ainda está abaixo do ideal em algumas regiões. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | RIO GRANDE DO SUL: Mobilização pretende vacinar 5,3 milhões de pessoas contra a gripe no estadoBrasil61A influenza continua predominando em grande parte dos estados brasileiros. O alerta é do Ministério da Saúde. Por isso, as Unidades de Saúde dos municípios do Rio Grande do Sul estão mobilizadas para reforçar a vacinação contra a gripe. No estado gaúcho, CINCO MILHÕES E TREZENTAS MIL pessoas fazem parte do público prioritário. A partir de agora, a vacina contra o vírus Influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e será oferecida para os grupos prioritários durante todo ano. Em 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73 milhões e 600 mil doses, que serão distribuídas em todo o país. A influenza continua predominando em grande parte dos estados brasileiros. O alerta é do Ministério da Saúde. Por isso, as Unidades de Saúde dos municípios do Rio Grande do Sul estão mobilizadas para reforçar a vacinação contra a gripe. No estado gaúcho, 5,3 milhões de pessoas fazem parte do público prioritário. A partir de agora, a vacina contra o vírus Influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e será oferecida para os grupos prioritários durante todo ano. Em 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73 milhões e 600 mil doses, que serão distribuídas em todo o país. E os dados reforçam a importância da vacinação: entre janeiro e 21 de junho (SE 25), foram registrados no estado MIL E QUATROCENTOS casos de Síndrome Respiratória Aguda por influenza e 200 óbitos. Gripe: vacinação segue em Porto Alegre (RS) para aumentar adesão do público prioritário O Ministério da Saúde destaca que a vacina da gripe evita de 60% a 70% dos casos graves e mortes. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, explica mais: “A vacina é importante porque diminui o risco de infecção. Apesar de não ter uma eficácia de 100% para proteger contra a infecção, ela diminui o risco de se infectar. A vacina também diminui significativamente o risco de formas graves da doença e de hospitalização. Então por isso ela é importante, ela acaba resultando na diminuição do número de mortes pela doença.” A meta é atingir 90% do público prioritário do Calendário Nacional de Vacinação, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, e idosos com 60 anos e mais. Para os outros grupos serão contabilizadas as doses aplicadas. Vacinação contra a gripe: público prioritário
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal no país. Segundo Gatti, desde 2023 o Brasil começou a reverter a tendência de queda na vacinação. A vacina está liberada para toda a população de acordo com a disponibilidade em cada cidade. “De lá para cá, temos várias ações que permitiram melhorar as coberturas vacinais, como, por exemplo, a promoção do microplanejamento e a vacinação em escolas, o monitoramento de estratégias de vacinação, entre outras ações que permitiram que os municípios melhorassem o seu desempenho na vacinação e também protegessem a sua população contra as doenças que são evitáveis com vacinas.” Procure uma Unidade Básica de Saúde com a Caderneta de Vacinação ou documento com foto. Garanta a sua proteção! Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinacao. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |




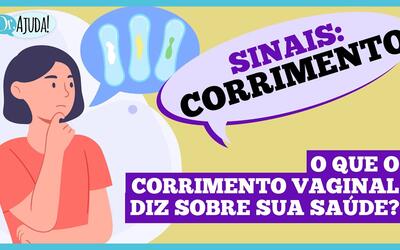
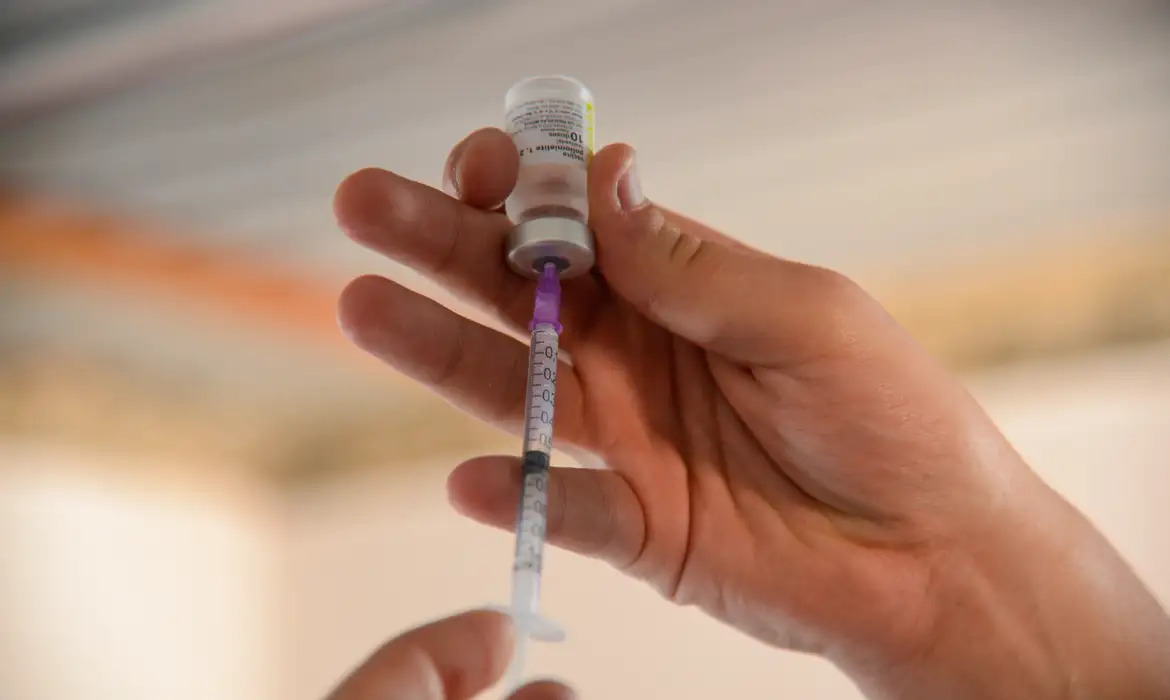

Comentários
Postar um comentário